9.33 - Memórias de José Rentes de Carvalho I, Os 3 Rios Douro, O perigoso Rio Douro antes das barragens, O Rio Douro da Ponte Maria Pia ao mar, O "Duque", As ruas estreitas da Ribeira, Fotos antigas
O escritor José Rentes de Carvalho- (V. N. da Gaia - 1930) conta as suas memórias de jovem no seu livro Tempo Contado:
“Para que o Porto avive em mim a magia com que me
enfeitiçou ao nascer, basta a lembrança de umas quantas ruas e do seu rio.
Curiosamente, com as ilusões e os sonhos que se têm na infância e ficam para o
resto da vida, o nome de Douro uso-o eu não somente para um, mas para três rios
distintos.
Carregamento de vinho do Porto no cais de Gaia - 1910
O primeiro, conheci-o nas lições de Geografia: nasce na Sierra de Urbión, atravessa a Espanha, onde lhe chamam Duero, atravessa Portugal e desaparece no Atlântico. Abstracto, impessoal, não vive, não corre, é simples linha azul nos mapas.
Cachão da valeira - foto de Emílio Biel
Barco Rabelo à sirga
O segundo Douro é o que se avistava do comboio que nas férias me levava do Porto para a nossa aldeia transmontana.
Ao contrário d’agora, com as barragens que o acalmaram e puseram quase ao nível dos carris, o rio desse tempo remoinhava furioso por entre cachões. A sua água espumava e, vistos do comboio, os rabelos carregados de pipas de vinho, que atracados aos cais da cidade me impressionavam pelo tamanho, pareciam naves de brinquedo a lutar contra a corrente no fundo das ravinas.
Esse era o rio majestoso, de que se contavam lendas e onde ocorriam tragédias. As suas margens eram uma espectacular paisagem de rochedos, colossais muralhas de xisto, arbustos ressequidos, aldeias nas encostas, vinhedos que se estendiam a perder de vista. Aqui e além uma vela branca, barcos varados nos areais.
Gente que parava de trabalhar e acenava alegremente ao comboio.
Pássaros em voo lento, desenhado a preto no azul do céu.
No tempo das cheias os rabelos perdiam por vezes o governo e iam despedaçar-se contra os penedos. Depois, inchados e roxos, os cadáveres dos náufragos apareciam defronte do Porto, na Ribeira, parados pela força da maré cheia, ou apertados entre as embarcações.
Ao contrário d’agora, com as barragens que o acalmaram e puseram quase ao nível dos carris, o rio desse tempo remoinhava furioso por entre cachões. A sua água espumava e, vistos do comboio, os rabelos carregados de pipas de vinho, que atracados aos cais da cidade me impressionavam pelo tamanho, pareciam naves de brinquedo a lutar contra a corrente no fundo das ravinas.
Esse era o rio majestoso, de que se contavam lendas e onde ocorriam tragédias. As suas margens eram uma espectacular paisagem de rochedos, colossais muralhas de xisto, arbustos ressequidos, aldeias nas encostas, vinhedos que se estendiam a perder de vista. Aqui e além uma vela branca, barcos varados nos areais.
Gente que parava de trabalhar e acenava alegremente ao comboio.
Pássaros em voo lento, desenhado a preto no azul do céu.
No tempo das cheias os rabelos perdiam por vezes o governo e iam despedaçar-se contra os penedos. Depois, inchados e roxos, os cadáveres dos náufragos apareciam defronte do Porto, na Ribeira, parados pela força da maré cheia, ou apertados entre as embarcações.
De todos os três o terceiro Douro é o que me é mais querido. E tão familiar que, com a mesma ingenuidade com que nos apossamos das paisagens da nossa infância, muitas vezes julguei que fosse só meu.
O meu Douro tem pouco a ver com a linha azul que nos mapas atravessa a Espanha e Portugal, e do segundo Douro somente partilha as águas. No que respeita o comprimento, a esse mal se lhe pode chamar rio: começa junto da ponte do caminho-de-ferro que Eiffel construiu em 1876, passa sob a ponte de D. Luís I, faz duas curvas preguiçosas, alarga-se um momento e, como que exausto pelos cinco quilómetros que percorreu, entra no mar.
O meu Douro tem pouco a ver com a linha azul que nos mapas atravessa a Espanha e Portugal, e do segundo Douro somente partilha as águas. No que respeita o comprimento, a esse mal se lhe pode chamar rio: começa junto da ponte do caminho-de-ferro que Eiffel construiu em 1876, passa sob a ponte de D. Luís I, faz duas curvas preguiçosas, alarga-se um momento e, como que exausto pelos cinco quilómetros que percorreu, entra no mar.
Foz do Douro visto do Palácio de Cristal
Os anos de menino passaram, a magia ficou. Nesse
meu rio só eu os vejo, mas os veleiros de quatro mastros, embandeirados e
pintados de branco, estão de novo atracados ao Muro dos Bacalhoeiros, à espera
que o bispo os venha abençoar para que o mar da Groenlândia seja calmo e lhes
dê boa pesca. Vejo-os quando regressam, sujos, ferrugentos, o velame esgarçado,
tão carregados que mal se lhes distingue a linha de água.
Guardo os postais dos anos 30, que mostram o rio
atulhado de cargueiros, o fumo branco a escapar-se-lhes das chaminés e dos
guindastes, que nesse tempo ainda eram a vapor.
A descarga do sal era feita por mulheres –.foto de 1939
Noutros estão as filas de carrejões que faziam a
descarga do sal e do carvão. Vão de cesto à cabeça a correr pela prancha que
junta o navio ao cais. Vejo a prancha balançar. Oiço os risos e os gritos. Vejo
os botes que pescam a meio do rio e os outros que cobram dez tostões pela
passagem.
Mas não atravesso ainda, deixo-me ficar em Gaia, no
largo onde nasci.
Em 1849 vivia aqui Frederick William Flower.
Escocês, comerciante de vinhos, fotógrafo pioneiro.
Tal como depois a mim, a ele também o panorama deve ter parecido mágico.
Provam-no as suas fotografias.
Ponte D. Maria II (pênsil) – foto Frederick Flower
Ajudado por elas viajo no tempo. Passo pelos
estaleiros, que depois fariam o encanto da minha infância, e atravesso o rio
sobre a ponte pênsil. Desta só restam na margem direita duas das quatro colunas
em que a ponte se apoiava. Continuo pela Ribeira, passo pelo baixo-relevo que
recorda o desastre da ponte das barcas, em 1809, em que desapareceram no rio
milhares de portuenses que fugiam das tropas de Napoleão.
Ali ao lado faço uma reverência à placa do "Duque". Quem não sabe, estranhará, e é preciso explicar. Como toda a gente, também eu conheci o "Duque", que morreu quase centenário em 1997. Lá está a placa para recordação. Diocleciano Monteiro.
Cauteleiro, barqueiro, por alcunha o Duque, devido à nobreza do seu porte. A fama veio-lhe aos onze anos, quando se atirou ao rio para salvar um infeliz que se afogava. E como se o destino o tivesse marcado, ficou salvador de vidas e "pescador" de afogados e suicidas para o resto da vida. Centenas deles, dizem. "Houve um ano em que se atiraram doze da ponte abaixo."
Cauteleiro, barqueiro, por alcunha o Duque, devido à nobreza do seu porte. A fama veio-lhe aos onze anos, quando se atirou ao rio para salvar um infeliz que se afogava. E como se o destino o tivesse marcado, ficou salvador de vidas e "pescador" de afogados e suicidas para o resto da vida. Centenas deles, dizem. "Houve um ano em que se atiraram doze da ponte abaixo."
Logo detrás da Ribeira, e subindo pela encosta até
à Sé, fica o emaranhado de ruas e vielas que em tempos imemoriais foram as
primeiras da cidade. Sombrias, estreitas, misteriosas. Com uma vida pública que
sofre a luz do dia, e outra secreta, nocturna, de vultos fugidios. Aí ficavam o
Royal e o Guarany, os cafés onde me tornei homem, com o primeiro cigarro, a primeira
cerveja, o primeiro susto, que nesse tempo se exorcizava com orações e
permanganato.












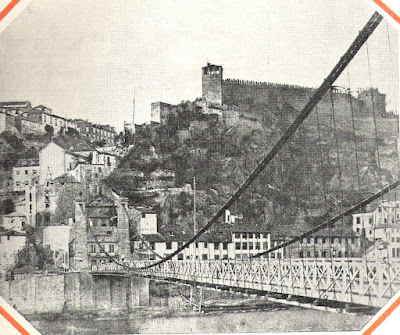


Não têm uma página de facebook? Fantástico trabalho! Estão de parabéns...
ResponderEliminarMuito obrigado pelo seu comentário. Ficamos contentes que goste.
ResponderEliminarTemos 2 páginas no Facebook:
PORTO, DE AGOSTINO REBELO DA COSTA AOS NOSSOS DIAS e
RUI CUNHA.
Melhores cumprimentos